|
|
NÃO SEI,
AMA, ONDE ERA - Comentário
Análise
de uma síntese perfeita
Maria Helena Nery Garcez (USP)
Do Cancioneiro de Fernando Pessoa
ortónimo, destacam-se alguns poemas criados com
admirável poder de síntese, que condensam complexos
conteúdos em breves versos : Autopsicografia,
Isto, Não sei, ama, onde era,
Ela canta, pobre ceifeira e outros. É a
magia da linguagem económica que é – ou pode ser – a
poesia, o que aqui se pretende surpreender, usando de um
discurso inverso ao dela, o analítico.
Na Autopsicografia, deparamos com a
síntese de uma estética – não de uma poética em
particular – tratada em três quartetos de redondilhas
maiores, com rimas alternadas, funcionalmente
distribuídas entre agudas e graves. No poema que,
felizmente, os editores sempre tiveram o bom senso de
publicar a seguir a Autopsicografia, o
Isto, estamos diante da proposta de uma
poética, a do Poeta que está por detrás de ortónimo e
heterónimos, éditos e inéditos, também expressa em três
estrofes breves, desta vez, em quintetos de versos
hexassilábicos, rimados segundo o esquema ababb,
habilidosamente distribuídos entre rimas graves e
agudas. No presente texto, limitar-me-ei ao menos
estudado poema Não sei, ama, onde era.
Não sei, ama, onde era
23-5-1916
Nunca o saberei...
Sei que era primavera
E o jardim do rei...
(Filha, quem o soubera!...)
Que azul tão azul tinha
Ali o azul do céu!
Se eu não era a rainha,
Por que era tudo meu?
(Filha, quem o adivinha?)
E o jardim tinha flores
De que não me sei lembrar...
Flores de tantas cores...
Penso e fico a chorar...
(Filha, os sonhos são dores...)
Qualquer dia viria
Qualquer coisa a fazer
Toda aquela alegria
Mais alegria nascer
(Filha, o resto é morrer...)
Conta-me contos, ama...
Todos os contos são
Esse dia, e jardim e a dama
Que eu fui nessa solidão...
Segundo a edição de Maria Aliete Galhoz, o poema data de
23/5/1916; se a data é fidedigna, nem um mês após o
suicídio de Sá-Carneiro.
Compõe-se de 5 estrofes, apresentando 4 estrofes de 5
versos ou quintilhas e 1 de 4 versos ou quarteto, a
final. Versos breves, predominando o hexassílabo, com
rimas regularmente alternadas nas 3 primeiras estrofes e
na 5ª ou última, sendo que a 4ª estrofe se desvia do
esquema, apresentando rimas alternadas nos 3 primeiros
versos e emparelhadas nos 2 últimos. Se, na contagem das
sílabas dos dois primeiros versos do poema, fizermos um
hiato entre “ama” e “onde” e entre “nunca” e “o”, não
ocorrerão, no poema, versos de 5 sílabas, que será
composto apenas de hexassílabos nas 4 primeiras estrofes
e, na última, de dois hexassílabos, um octossílabo e uma
redondilha maior.
Constrói-se essa canção do
Cancioneiro - sob a forma de um
diálogo/confidência em surdina, entre um eu feminino e
sua ama, cujas intervenções vêm, discretamente, em
versos parentéticos, ocupando o último verso da estrofe,
com excepção da 5ª, em que a ama não mais se manifesta.
Também podemos entender que o discreto diálogo se dá
apenas na intimidade do eu lírico, que interiormente
conversa com uma espécie de ama/alter ego, a quem se
abre e de quem gostaria de receber desejadas e
impossíveis respostas.
Compondo a situação de
confidência, pulsa, na canção, uma atmosfera medieval,
que se, por um lado, poderia fazer pensar nas cantigas
de amigo ou nos rimances, por
outro, tanto pela condição da dama que faz as
confidências quanto pelo seu teor, ela distingue-se
delas. Paira por sobre esse íntimo diálogo uma elevação
e idealidade não
próprias daquelas composições mais cruas, terra a terra,
narrativas ou fantasiosas. Mas, de qualquer forma, há,
na canção, uma “coita de amor” de outra natureza -
parafraseando Pessoa, diríamos “uma coita de amor de
espécie complicada”- , numa forma breve, construída em
versos breves, num brevíssimo e ténue diálogo, numa
canção que quase soa despercebida, mas no qual,
exemplarmente, se sintetiza a tragédia da condição
humana.
Nessa “coita de amor” não
buscada para “fazer uma partida ao Sá-Carneiro”, mas ao
seu próprio criador e a cada um de nós, fala-se do
desejo humano subjacente a todo e qualquer desejo,
aquele que não admite adversativas, do desejo humano da
felicidade
plena, absoluta e eterna, sem a ressalva de que seria
eterna enquanto durasse; fala-se do desejo humano da
perfeição desprovida de tédio, não a pseudo-perfeição
que a deusa Calypso proporcionava a Ulisses e que, por
isso, não podia ser chamada perfeição.
Nesse diálogo entre a
menos experiente e sua interlocutora que, a princípio,
parece
sê-lo mais – é a “ama” – há um contínuo vaivém entre um
não saber e um saber, um vaivém que formalmente se
dá na disposição alternada das rimas e, nelas, ainda, na
alternância de graves e agudas, com apenas uma excepção,
a que, oportunamente, deveremos voltar.
Não sabe, a alma, a
localização espacial aonde vivenciou o que conta à ama.
O tempo verbal do 1º verso é o imperfeito do modo
indicativo. Uma duração contínua num passado não
definitivamente passado, imperfeito enquanto passado
pois, caso contrário, seria perfeito; uma duração que,
de algum modo, dura ainda. De uma coisa, contudo, a alma
sabe com certeza absoluta: que nunca saberá o que deseja
saber e não sabe. Aquele não saber espacial – que, na
confidência, constitui o primeiro objecto/lamento de sua
coita e a preside – não impede o saber temporal
conclusivo e definitivo do “nunca o saberei”, daí a dor
a perpassar os dois primeiros versos, dor concretizada e
indefinidamente prolongada nas reticências, dor que,
paulatinamente, vai impregnando todo o poema.
Ao que a alma sabe,
acrescentam-se mais dados, sendo o primeiro o da estação
do ano e de sua duração igualmente contínua: “Sei que
era primavera”. De novo, expressa no imperfeito do
indicativo, a duração da primavera, que não realiza o
perficere de seu acabamento enquanto passado, mas é
perfeita porque ainda dura, perfeição, contudo,
espacialmente inalcançável. Sabe, depois, a alma, e
estamos no verso quarto, que esse espaço, ilocalizável e
sempre primaveril, era “o jardim do rei ...”. Note-se
que tanto o 2.º quanto o 4.º versos são finalizados com
a acentuação mais intensa das rimas agudas: “saberei” e
“rei”, sendo que o primeiro termo inclui o segundo,
reiterando-o, sonora e semanticamente, de algum modo. Na
alternância de saber e não saber, as rimas graves, ou
brandas, falam-nos do estado ininterrupto daquele espaço
ignoto e da estação amena que nele durava em
continuidade infinda: “era” / “primavera”. A essas rimas
graves, que se prolongam com suavidade, opõem-se as
agudas, terminantes, categóricas. Se a 1.ª das rimas
agudas está no verso que radicalmente nega o desejo da
alma, a 2.ª aparece no verso que o torna ainda mais
desejável: o espaço, identificado como “jardim”,
instaura, de per si, uma denotação positiva, ainda mais
valiosa pela conotação originada por pertencer ao
importante por antonomásia, o rei.
Intervém, no 5.º verso, a
mais experiente ou confidente. Em poucas palavras, só
demonstra mais saber do que a jovem porque, de raiz,
corta com toda e qualquer esperança de ser possível
saber o que ela deplora não saber. Em aparte àquela a
quem
chama de “filha” (os parênteses indicariam que a incisa
interrompe, sem querer interromper, o discurso
principal), ou em aparte a si mesma (outra possível
funcionalidade dos parênteses), ou ainda em aparte aos
potenciais receptores do poema, a ama universaliza o não
saber de que se trata e, pelo uso do mais-que-perfeito
com valor potencial, remete-o, definitivamente, para a
esfera do que transcende a qualquer um de nós, à do
absolutamente inalcançável. De novo branda, a rima,
seguida das reticências, é desalento.
Como a intervenção da
“ama” não interrompe o relato/lamento da “filha”, na 2.ª
estrofe, esta prossegue as reminiscências, contando-lhe
e a nós outra informação acerca desse inatingível e
ignoto espaço: Que azul tão azul tinha/ ali o azul do
céu! Seria possível caracterizar melhor o arquétipo do
azul, a não ser pela tautologia? Aquele azul, para o
qual de novo se usa o imperfeito do indicativo, não era
uma qualidade, era substância, o próprio Azul subsistente e a repetição do
termo, por três vezes em dois tão breves versos, em
homologia com o espaço que a alma tenta descrever,
saturam os versos de azul, presentificando-o e
consubstanciando-o. Depois desse abismar-se da alma na
reminiscência do Azul, irrompe a indagação, para a qual
também se usa o imperfeito do indicativo do verbo ser,
indagação formulada à maneira de hipótese que só admite
uma resposta : Se eu não era a rainha,/ Por que era
tudo meu? Além do espaço primavera eterna, além do
jardim do rei, além do Azul substancial, a alma
recorda-se agora de sua posição privilegiada, rainha e
senhora de todo o circundante. Ela era a rainha numa
continuidade passada e inacabada.
Não se vai configurando,
verso a verso, estrofe a estrofe, indício a indício, a
nostalgia da alma pelo mundo arquetípico, por um estar
em intimidade com as Ideias, que pôde conhecer numa
preexistência, talvez ? Ou, se passarmos da esfera
platónica para a judeo-cristã, não se vai configurando
ser, essa nostalgia-coita-de-amor, a do espaço edénico
anterior à Queda, em que a alma estava “posta em
sossego” na unidade com o Divino, em que os seres
conviviam em harmonia cósmica ? A ama, por também não
saber (e o seu não saber pode ser mais uma interpretação
para suas intervenções virem entre parênteses), não ousa
formular resposta, mas responde com outra pergunta,
perenizando a perplexidade: (Filha, quem o adivinha?)
À reminiscência do jardim
(1.ª estrofe) seguiu-se, na 2.ª, a do Azul e, na 3.ª,
segue-se a das flores, em profusão de cores. Do Azul
arquetípico, a alma parece saber, das flores, ela torna
a se lamentar por não saber lembrar e a rima aguda
potencia a angústia dessa incapacidade. Do mesmo modo, a
agudez da rima do 4.º verso, potencia a intensidade do
“chorar”, que, seguido de reticências, diz-nos de uma
“coita” sem fim, à qual a intervenção da ama acrescenta
um novo elemento: (Filha, os sonhos são dores...).
Até esse final da 3.ª estrofe, nenhuma das duas se
havia referido a sonhos. De facto, o espaço dos sonhos é
alcançável para quem já acordou? Tem, a alma, domínio
sobre os sonhos? A intervenção da ama vem dizer à alma
que o espaço do inconsciente escapa ao consciente e que
belos sonhos, quando findos, são dores porque perdidos.
A sua fala, ao subtrair-nos do espaço da transcendência,
aflora outro, imanente, mas do mesmo modo inacessível.
Chegados à 4.ª estrofe, a
narração prossegue, porém, não mais no imperfeito do
indicativo e sim no futuro do pretérito, anunciando o
que poderia ter sido, o que se vislumbrou, mas não foi.
Salienta a alma, agora, em meio a um não saber que a
impede
de nomear: Qualquer dia viria/ Qualquer coisa a
fazer/ Toda aquela alegria/ Mais alegria nascer. É o
clímax do relato, que se torna mais acelerado, mais
dinâmico, quer pela anáfora dos dois primeiros versos,
quer pelo uso de verbos no infinitivo, “fazer” e
“nascer”, quer pela repetição do termo alegria. Chama a
atenção que “aquela alegria” é de natureza especial
pois, sob a acção de um inominado gerador, dela nascem
alegrias
sempre novas e sempre outras. A estrofe diz-nos de um
moto-contínuo próprio desse espaço, de um dinamismo
feliz, perfeito, a que não está alheia a noção de
paraíso, mas
desta feita, de uma ordem superior à terrestre. Se,
curiosamente, as estrofes iniciais, podem ser
interpretadas – já o dissemos – como reminiscência do
Éden – paraíso terrestre – essa estrofe fala-nos do “dia
qualquer”, ignoto também, que viria levar o terrestre ao
celeste. Mais uma vez, porém, a ama, com seu realismo,
freia o entusiasmo da alma, trazendo à baila o tema da
morte.
Lembremos, neste momento,
que é nesta 4.ª estrofe, que há a quebra do esquema
rítmico. Atentemos: o 1.º verso que termina pela palavra
“viria” rima com o 3.º, que termina por “alegria”. Este,
por sua vez, de acordo com o esquema, deveria rimar com
alguma palavra em “ia”, que finalizasse o 5.º verso, o
que não sucede. A “alegria” do 3.º verso rima com
“alegria” no interior do 4.º verso, enquanto a rima
final do 5.º verso, também aguda, é o “er” de “morrer”,
que se emparelha e opõe ao “nascer”, do final do 4.º
verso. Ou seja: a ama parece jogar água na fogueira do
clímax de entusiasmo daquela que se abria em
confidência. A sua voz de realismo, ou talvez de senso
prático, alerta a jovem de que a hipótese de um
moto-perpétuo de alegria não tem futuro e não pode
vingar.
Chegada ao clímax, ao
êxtase de seu sonho, “o resto é morrer...”.
A estrofe final, contudo,
mostra-nos que a alma não desiste. Num quarteto, em que
já não mais comparece a intervenção sempre desalentadora
da ama, a alma retoma o diálogo, não no sentido de
prosseguir o relato de suas reminiscências – de sonhos
ou de outra natureza – , mas num sentido de resistência
ao conselho desesperançado da ama, numa descoberta de um
modo de luta. Ao rogar-lhe que lhe conte contos,
pede-lhe o mythos, o caminho para, através da
linguagem que diz o inefável ou, segundo Pareyson, o
inexaurível, ir ascendendo àquele espaço outro de que só
guarda reminiscências e farrapos de sonhos. Entende-se,
então, perfeitamente, que ela conclua o seu discurso na
convicção de que a ficção, qualquer que ela seja, falará
sempre desse dia, e jardim e a dama/ Que eu fui nessa
solidão...
No único verso
octossilábico da canção, verso que, portanto, se
destaca, ela reafirma e resgata os elementos essenciais
de seu desejo e nele se inclui.
Não é uma síntese perfeita
da função sublimadora, sagrada, da arte?
Publicado por
Joaquim Matias da Silva
Nota 1:
se tiver dúvidas e quiser rever os recursos
estilísticos, abra
esta página.
Nota 2:
ver
aqui
análises ou leituras orientadas de outros poemas de
Fernando Pessoa e seus heterónimos.
====================================================
.gif) |
Talvez também tenha interesse em ver comentáros
de poemas e estudos integrais de todas as obras e
autores que fazem parte dos programas de
Português e de Literatura Portuguesa dos 9.º ao
12.º anos de escolaridade. |
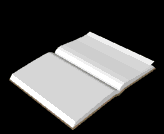 |
|
Consulte então os seguintes menus: Fernando
Pessoa
(poesia ortónima e
heterónima),
O Memorial do Convento (José Saramago),
Felizmente Há Luar, Frei Luís de Sousa,
Um Auto de Gil Vicente e Folhas Caídas
(Almeida
Garrett),
Amor de Perdição (Camilo
Castelo Branco),
Antero de Quental,
António Nobe,
Sermão de Santo António aos Peixes (Pe.
António Vieira),
Bocage,
Camilo Pessanha,
Cesário Verde,
Os Maias e A Aia (Eça
de Queirós),
Eugénio de Andrade,
Fernão Lopes,
A Farsa de Inês Pereira (Gil
Vicente),
O Render dos Heróis (José
Cardoso Pires),
Camões lírico
e
Camões épico,
Miguel Torga,
Sophia Andresen,
Aparição (Vergílio
Ferreira),
as
Cantigas de amigo,
de
amor,
de
escárnio e de maldizer.
Consulte ainda as rubricas de
Funcionamento da Língua.
Boas leituras e bom estudo. |
|